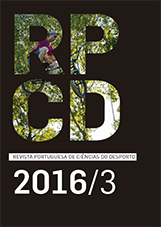 Editorial Editorial
Os caminhos tortuosos da ciência
No seu Discurso do Método, Descartes (1991) pretendia a demonstração de um Deus essencialmente perfeito que funcionasse como ponto ómega de todo a realidade e por arrasto de todos os investimentos científicos. Para Descartes, a procura dos fundamentos do real numa divindade perfeita radicava no pressuposto da inquestionável superioridade do pensamento humano que, subordinado ao aforismo filosófico do “Penso logo existo”, determina as regras da procura da verdade através de Deus porque este é a fonte das nossas ideias mais evidentes.
A procura de um método que proporcionasse a explicação da natureza trazia, implícita, a possibilidade de explicação da espiritualidade da alma e da existência de Deus. Descartes acreditava poder avançar no conhecimento da verdade através de um método que colocava a metafísica como referência fundamental. O Cartesianismo, ao separar o corpo da alma, criou um conflito irresolúvel que determinou um cortejo infindável de dualismos redutores que marcaram, durante muito tempo, a lógica do pensamento ocidental. A própria investigação científica ficou refém desta conceção dualista já que o Método de Descartes funcionou, durante muito tempo, como cartilha dogmática de todo o investimento na procura do conhecimento.
Descartes desenvolveu múltiplas apetências de investigação nos mais diversos domínios científicos – acústica, ótica, balística, mecânica, astrologia, fisiologia, etc., criando um corpus teórico bem fundamentado tentando explicar todos os fenómenos da natureza. Lembremo-nos que essa época (século XVII) era riquíssima em investimentos intelectuais e artísticos, prenunciando o advento do Iluminismo, ponto de partida em que o Homem se liberta do jugo exegético do clero na explicação da realidade e, através do espírito crítico, se liberta das peias condicionantes dos dogmas religiosos e investe-se, corajoso, por vezes inconsequente, mas livre, na aliciante e sempre infindável aventura do conhecimento científico. Descartes pode ser assim considerado como a ponte entre o obscurantismo medieval e o século das Luzes, mantendo em equilíbrio inconciliável, no nosso entender, a força heurística da ciência e o controlo dogmático da religião. Que ele o tenha feito com extrema elegância é uma realidade, mas, no entanto, não deixa de subordinar o seu método à procura da verdade que tem em Deus o referencial axiológico. “A César o que é de César, a Deus o que é de Deus”; Descartes esqueceu esta máxima reguladora de campos distintos e assimilou a ciência à perfeição de Deus. Deus como conceito de perfeição inefável presta-se a todo o tipo de equívocos que devem estar arredados do plano do real. A dimensão espiritual transcendental, desde Demócrito, deve estar fora das cogitações científicas.
Descartes, criticava a situação anárquica, saudável no entender de Feyerabend (1993), que caracterizava a ciência e filosofia da época, advogando uma exigência metódica em detrimento do bom senso do espírito humano. Era necessário um método para disciplinar a mente humana na procura da verdade científica, método esse que estivesse despido de dogmatismos e que foi alicerçado nas suas pesquisas filosóficas solitárias. Tentou despir-se das influências recebidas procurando uma voz própria que ultrapassasse os limites impostos pela lógica aristotélica. Por entre o emaranhado das várias ciências encontrou na Matemática a possibilidade de dar uma certa ordenação ao pensamento científico, o que lhe permitiu elaborar os quatro preceitos fundamentais do seu Método (1991, pp. 28-29):
— “Não aceitar nenhuma coisa como verdadeira que eu não conheça de modo evidente como tal”. É o critério da evidência que recusa tudo o que não seja claro e distinto.
— “Dividir as dificuldades em tantas partes quanto possível”. É a lógica do reducionismo que tenta compreender o todo através da análise das partes. É a tentativa de reduzir a realidade ao mais simples possível.
— “Conduzir ordenadamente os pensamentos, indo gradualmente do simples ao composto”. É a tentativa de síntese que permite estabelecer uma dedução.
— “Fazer enumerações tão totais e revisões tão gerais que esteja seguro de nada omitir”. É levar o processo dedutivo às últimas consequências, concluindo demonstrações até à resolução dos problemas.
Estes princípios, que ordenavam o processo heurístico em Descartes foram a pedra de toque metodológica da investigação científica até muito tarde. No entanto, Descartes, respeitando o ar dos tempos, imbuído duma profunda crença religiosa, acreditava que a ciência e o método de procura do conhecimento deveriam estar subordinados aos preceitos religiosos, à moral estabelecida e à aceitação de uma dada ordem do mundo. Descartes quis estar de bem com todos e a sua vida foi marcada pela preocupação ingente de se afastar do afrontamento, da luta, do sofrimento. Ora esta característica está nos antípodas da curiosidade científica que almeja à verdade na ultrapassagem dos escolhos múltiplos impostos pelo profundo desconhecimento que temos das coisas e da realidade. Descartes não intuiu que o pacto com a verdade não se coaduna com cedências aos poderes estabelecidos, sejam temporais sejam espirituais, e na linha de Galileu que renunciou às suas posições copernicianas, Descartes, com medo da fogueira inquisitorial, decide não publicar as suas reflexões filosóficas e científicas referindo na carta ao seu amigo e também filósofo Mersenne (novembro de 1633): “…resolvi queimar todos os meus papéis ou, pelo menos, não deixar que fossem vistos por ninguém” (Descartes, 1991).
Descartes criou um método heurístico para decifrar a realidade, elaborou os caminhos para a abordagem dos segredos do real, mas não teve a coragem física para afrontar as tensões dogmáticas do seu tempo. Foi um intelectual brilhante, mas sem coragem de se assumir como tal, pois o intelectual probo só pode fazer pactos com a verdade, melhor dito, com a procura da verdade. Como nos ensina Popper (1961), a verdade é uma meta inatingível, pelo menos em termos lógicos, pois mesmo que a tenhamos encontrado não temos meios eficazes para ter a certeza de tal. Como diz o poeta ibérico António Machado “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”; não temos métodos inquestionáveis para decifrar a verdade, mas, como seres pensantes e inteligentes devemos porfiar no sentido da procura da verdade utilizando todas as armas heurísticas que a nossa inteligência desenvolva. Na aventura do conhecimento, mais que o domínio da verdade, impossível em termos lógicos como nos diz Karl Popper, importa a viagem na sua procura. Na aventura do conhecimento não existe porto de destino, existe sim a viagem no mar encapelado das dúvidas e insuficiências. Mas é aí que importa estar e é nesse equilíbrio instável que se dá um certo sentido ao sem sentido da vida. Ao navegar no mar das dúvidas e desconhecimento posso não chegar a nenhum porto seguro em que vislumbre a verdade, mas assumo a coragem das minhas próprias insuficiências, utilizando todas as bússolas possíveis que me permitam conhecer um pouco mais o mundo que me rodeia. É este espírito abrangente e livremente inconformado em que assenta o posicionamento heurístico de Feyerabend. Mas continuemos em Descartes para justificar Feyerabend.
Descartes não sabia que não existe um porto seguro para a verdade, pois a sua profunda religiosidade augurava-lhe um destino de perfeição centrado em Deus e, o seu método, ultrapassando o senso comum, era a forma organizada de chegar ao conhecimento científico, ontológico, metafísico.
Com o seu método, Descartes pretendia conduzir bem a razão na procura da verdade nas ciências. Embora aceite que, por vezes, os sentidos nos podem enganar, defende que a alma é uma substância distinta do corpo e cuja única natureza é pensar. O cogito ergo sum leva Descartes à prova da existência de Deus, como justificação da ideia de perfeição que está arredada do ser humano imperfeito. Estes resquícios platónicos – a ideia de perfeição para além do homem, fora do homem, e que radica no mundo das ideias de Platão - levam o método cartesiano a um beco sem saída epistemológico que evidencia a impossibilidade de domínio da verdade através das nossas ideias.
Descartes ao afirmar a incomunicabilidade entre o sujeito (ego cogitans) e o objeto (res extensa), cria uma disjunção artificial, remetendo o sujeito para a filosofia e o objeto para a ciência. Sem o querer, ou talvez querendo quem sabe, criou um divórcio entre filosofia e ciência que Feyerabend (1991) tentou resolver através do pluralismo metodológico do “tudo vale”.
Descartes tenta conciliar o domínio da fé com o da ciência. Para Descartes, o corpo humano é uma criação divina, perfeito como uma máquina, e passível de compreender através das leis da mecânica. O método, como meio de organização do pensamento, não evitou a exaltação do mais profundo espiritualismo denominado de positivista, como podemos ver pela sua justificação do movimento. Para Descartes, os espíritos animais são partículas materiais produzidas no sangue, que circulam nos nervos e atuam nos músculos, convergindo na promoção do movimento. O mecanicismo cartesiano, através de um método teoricamente irrefutável, tenta justificar a fisiologia a partir da física e da matemática. Tentativa frustre que redundou na desconsideração do método. Descartes deu o primado da reflexão à lógica. Lógica como instrumento conceptual de todo o conhecimento e que deve controlar a coerência interna dos discursos e sistemas de ideias. Só que hoje sabemos que a lógica coloca problemas no seio do próprio conhecimento científico ao levantar incertezas onde antes afirmava certezas. A lógica é tocada pelo carácter de incompletude do espírito humano. A lógica ajuda até certo ponto depois, quando aprofundamos determinadas realidades, a lógica já não nos ajuda e temos de laborar enfrentando a contradição já que o conhecimento é um viveiro de novos desenvolvimentos, mas sempre inacabados.
Levanta-se a questão. Vale o método por si fora do domínio científico que o justifica? Existe o método geral que tudo justifica? Ou existem métodos particulares para cada área do conhecimento? Ou, na linha de Feyerabend, o método é um fator constrangedor na procura do conhecimento do real?
Para Feyerabend não existe um método científico universal. Este filósofo defende o conceito do “vale tudo”, embora aceitando que cada campo científico possua as suas próprias regras heurísticas que não devem estar subordinadas ao imperativo do paradigma pesquisante dominante.
A história do pensamento humano assistiu à progressiva libertação das ciências da esfera da filosofia. A autonomização das ciências abriu-lhes novos planos de realização, mas trouxe-lhes problemas novos de localização epistemológica. Como afirma Goethe (1998), “as ciências destroem-se a si mesmas de uma dupla maneira: através da largura em que avançam e através da profundidade em que se afundam”.
Feyerabend recusa o primado das ciências sobre as outras formas de manifestação do pensamento humano (e.g. mitos, religiões, filosofias) e advoga o pensamento livre numa sociedade livre.
Feyerabend estrutura o seu pensamento em quatro vertentes fundamentais (Chalmers, 1994):
— O conceito de VALE TUDO. Rejeita a existência de um método científico que se adapte às exigências heurísticas de todas as ciências e advoga a especificidade de cada método em função do campo do conhecimento que pretende abordar.
— O conceito de INCOMENSURABILIDADE. Radica na impossibilidade de integrar numa só lógica de pensamento, num só paradigma investigativo, as múltiplas possibilidades de abordagem de uma dada ciência. Como cada observador parte para a análise dos factos e fenómenos munidos com o acervo das suas teorias e investimentos intelectuais, são fáceis de emergir distintas escolas de pensamento para análise de um dado ramo científico.
— O conceito de que A CIÊNCIA NÃO É NECESSARIAMENTE SUPERIOR A OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO. Aqui Feyerabend, defende a importância cultural de todas as formas de manifestação do pensamento e cultura humana, zona híbrida e complexa que Popper denomina de noosfera. Coloca a ciência no mesmo patamar da religião, do mito, da tradição, da astrologia, etc. Aqui, Feyerabend, no nosso entender, não consegue distinguir entre a importância cultural de todas as formas de pensamento e conhecimento e o carácter operativo da ciência que nos permitiu o desenvolvimento tecnológico, marca do nosso avanço civilizacional. Voltaremos a este tema, mais à frente.
— O conceito de LIBERDADE INDIVIDUAL. Preconiza assim a emergência da criatividade individual em detrimento da formatação metodológica imposta pela norma investigativa determinada ditatorialmente pelo método vigente. Feyerabend, pretende assim evitar a cristalização ou o fechamento da ciência nos seus próprios fundamentos. A ciência fechada em si pode tornar-se dogmática pois rejeita os contributos de outras manifestações do pensamento humano que ao nível da axiologia podem ser mais importantes.
A partir destes quatro conceitos que Chalmers (1994) denominou de “pilares estruturais”, tentou Feyerabend destruir a omnipotência do método de investigação científica vigente, que teve a sua origem nos escolásticos e foi depurado por Descartes e seus epígonos. Feyerabend tentou destruir a auréola de satisfeita magnificência que caracterizava o método científico, desmistificando a sua lógica formal e rejeitando os critérios absolutos de cientificidade que lhe estavam subjacentes. Contra a unicidade metodológica, Feyerabend preconizava o pluralismo metodológico já que defendia a impossibilidade de a norma científica vigente ser suficiente para dirimir, sem dúvidas, o problema da verdade e da falsidade das teorias científicas. Feyerabend intuiu que não existe ciência pura, não há pensamento puro, não há uma lógica pura. A relação porosa que as várias ciências e os vários tipos de conhecimento mantêm entre si, torna difícil estabelecer linhas claras de demarcação entre ciência e não-ciência, o mesmo se verificando quanto à dificuldade de estabelecer um método inquestionável de investigação.
A base conceptual que justifica o posicionamento de Feyerabend em relação à insuficiência do método de investigação em ciência, radica nos limites explicativos da linguagem que, segundo Wittgenstein (1961), tem dificuldade em decifrar o inconcebível ou em explicar o silêncio. Feyerabend é contra o método porque reconhece a impossibilidade do pensamento, mesmo ordenado segundo uma dada lógica, conseguir ordenar as informações e os saberes. Essa impossibilidade conduz, assim, a um pensamento mutilante porque não consegue abordar a complexidade do real.
Também reconhecemos que o pensamento, mesmo o mais bem orientado, deixa sempre na sombra domínios importantes da realidade. Depois também sabemos o preço a pagar por ir à procura do mais fundo – o reducionismo. Reduzimos a realidade para melhor a compreendermos, só que nesse esforço de penetração perdemos as referências de um dado nível que só por sorte são úteis no nível atingido. Explico melhor com um exemplo. No esforço de melhorar o conforto humano, erradicando o sofrimento tanto quanto possível, a ciência desenvolveu uma droga – talidomida, que eliminava as dores femininas durante o parto. Só que os testes laboratoriais foram desenvolvidos em ratos, organismos de inferior nível de complexidade que os humanos e, quando da aplicação da droga em mulheres criou-se uma pandemia de más formações que alguns místicos consideraram castigo de Deus. O erro, neste caso, radicou na falta de validade ecológica na verificação da segurança da droga; o que é aplicável em animais de nível filogenético inferior pode não o ser para humanos.
É este, entre outros, um dos perigos que Feyerabend vislumbra na absolutização do método empírico nas ciências.
A crítica de Feyerabend assenta na crença de que o conhecimento científico ser inatacável a partir da objetividade dos enunciados científicos, da objetividade estabelecida pelas verificações empíricas e a coerência lógica das teorias fundadas nesses dados objetivos. Esta é a posição da Escola de Viena da Filosofia da Ciência (Hanh, Neurath, Carnap, etc.) que acreditava que seria possível formular normas gerais para o processo científico, analisar a estrutura lógica dos conhecimentos científicos e, mostrar que a ciência serve o objetivo racional de adquirir um conhecimento global e fiável do Universo (Schlick, 1975). Esta conceção rejeitava a Filosofia, considerada como saber vazio, e todas as manifestações de pensamento que não fossem validadas através da verificação empírica.
Mas, os positivistas lógicos da Escola de Viena soçobraram na sua tentativa de estabelecer os marcos claros na elaboração das teorias científicas. Nenhuma teoria científica pode pretender-se absolutamente certa. Ao ser elaborada, imediatamente assume zonas de desconhecimento que só podem ser esclarecidas, novamente em tentativa, por outras teorias. Teorias essas que, por mais perfeitas que sejam, deixarão intocadas algumas zonas de sombra que por um lado justificam um módico de humildade que deve assistir a todo o saber científico e por outro funciona como motor de pesquisas subsequentes abrindo novos espaços de indagação do real.
É como as cerejas, puxa-se uma e vêm outras atrás. Um problema resolvido determina a criação de um sem número de problemas-filhos que em si não se esgotam. É essa incomensurabilidade do conhecimento de que nos fala Feyerabend e que constitui um dos pilares fundamentais da sua linha conceptual.
Feyerabend, em linha contrária à dos positivistas lógicos que concebiam a filosofia despida de conceitos metafísicos e como trabalho epistemológico cujo objetivo se centrava na validação das afirmações segundo critérios lógicos ou empíricos, advogava que nenhum tipo de conhecimento é de excluir na tentativa de compreender a realidade. Contra o verificacionismo propalado pelos positivistas lógicos, que pretendiam que as proposições das ciências empíricas só têm sentido se forem verificáveis por observações de carácter experimental, Feyerabend conclui que não existe método seguro, empírico ou outro, que permita desvendar com segurança os segredos da realidade e aconselha humildade democrática à ciência que permita que esta, sem carácter elitista, aprenda a conviver com outras formas de expressão e conhecimento humano como os mitos, as tradições, as religiões. Aqui, Feyerabend, defende a integralidade da máxima de Terêncio que afirma Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Sou homem e nada considero alheio a mim do que é humano), recusando a supremacia da visão da ciência como “análise lógica modelada pela física constituinte duma base para a unidade do conhecimento” (Manifesto da Escola de Viena em 1929). Para Feyerabend a validade das proposições científicas está, à partida, contaminada pelas conceções de base do investigador. O imprinting cultural do investigador condiciona a forma como ele vai desenvolver o seu processo heurístico. Daí emerge a necessidade de relativizar todo o conhecimento confrontando-o com as condições da sua realização.
O problema do relativismo científico, ou seja, a não-existência de critérios intrínsecos à ciência que nos conduzam a uma escolha racional, universal, atemporal, levanta-nos, segundo Machado (2007) a dificuldade de justificar a ciência como verdade, universalidade e neutralidade, num ambiente cultural plural e antagónico em que verdade e falsidade podem ser explicadas de forma racional. O absolutismo dos critérios de verificação da verdade científica é, senão destroçado, pelo menos diminuído pela dimensão de irracionalidade que mais ou menos sub-repticiamente toca todo o conhecimento humano.
Feyerabend recusa a lógica de um pensamento totalizante. Não existem saberes totais, mas sim plurais. Os tempos são de recusa da ditadura da ordem e da norma normalizadora (passe a redundância). O advento e expansão da liberdade e da democracia permitiram a existência do Homem como fautor do seu próprio destino e das suas próprias reflexões. O pluralismo político convergiu no pluralismo ideológico, considerado este, não como expressão plural dos vários jargões políticos, mas como assunção do direito ao pensamento livre individual. Esta a posição de partida de Feyerabend que tenta, no campo das ideias, valorizar tanto os contributos das ciências empíricas como o das ciências sociais, tradições, mitos e religiões. Pensamos que tentou racionalizar a metafísica e dar domínio de transcendência à ciência das verificações, numa procura de unidade de todos os saberes. Tentativa frustre, pensamos nós, pois a unidade de todos os saberes é uma tarefa ciclópica, senão impossível, mesmo para o mais apurado espírito sintetizador.
Feyerabend intuiu que a ordenação do pensamento tem de ser seletiva porque impossível de açambarcar a totalidade dos saberes e informações. O quadro complexo da realidade é humanamente impossível de discernir, a não ser pela recorrência incontornável a saberes e pensamentos mutilantes. O que importa é que o investigador, o indagador, tenha consciência da lógica mutiladora de todo o conhecimento, científico ou outro, e que não o queira absolutizar como norma doutrinária. Feyerabend é um apóstolo da liberdade e defende a abertura heurística das teorias contra o fechamento dogmático das doutrinas. Nas doutrinas o erro é heresia; nas teorias o erro, o reconhecimento do erro, é somente sinal de probidade intelectual.
Contra os postulados provenientes dos filósofos da Escola de Viena (neopositivistas) que defendiam o primado da verificação, segundo o qual as proposições das ciências empíricas só têm sentido se forem verificáveis por observações de carácter experimental, Feyerabend preconiza uma verificação mais anárquica das proposições científicas que permite recorrer a outras formas de confirmação-verificação que poderemos denominar de não-científicas.
Em síntese, Fayerabend, defende a liberdade de pensamento, recusa a subordinação acrítica aos cânones ditatoriais do método científico vigente, recorre a todos as áreas do conhecimento humano para reforçar ou inviabilizar a força das proposições científicas, rejeita a ordem metodológica preconizando o anarquismo como forma mais humanizada e progressiva de se chegar ao conhecimento; recusa o rigor e a racionalidade da ciência quando estes são excludentes em relação a outros saberes que podem dar um sentido mais íntegro e global às verificações da ciência.
Mas Feyerabend pode e deve ser contrariado. Aceitamos a sua crítica pertinaz à Escola de Viena, mas, como defensores do papel verdadeiramente transformador duma pesquisa científica bem orientada, tentaremos encontrar uma solução que releve o papel fulcral do saber científico.
Nenhum método assegura a fiabilidade absoluta dos enunciados científicos. O conhecimento científico não é descoberto e verificado por via das generalizações indutivas (indução, como mecanismo reflexivo que tenta retirar ilações gerais de observações particulares), isto é, uma descoberta científica não salta dos instrumentos e dos dados experimentais, mas tem necessidade de um espírito crítico indagador que através de conjeturas e refutações avança no sentido do aprofundamento de um dado conhecimento. Portanto, a verificação das proposições científicas não é feita através da verificação da verdade, mas sim por refutação da falsidade. O patrono desta posição heurística foi Karl Popper que, ao criar a falsificação dedutiva, liberta a imaginação e a criatividade como fontes heurísticas primordiais, privilegiando a dedução em detrimento da indução (Popper, 1961).
A teoria é anterior à experiência e observação. Segundo Popper (1961), o caminho mais eficaz para o avanço científico assenta na formulação de teorias que serão confrontadas com as preposições que delas decorrem e que tentarão demonstrar a sua falsidade. Este esforço de falsificação não é um princípio perverso que visa destruir o interlocutor, mas uma tensão heurística que confronta as ideias e teorias com a sua robustez ou fragilidade. Popper tem muito de Sócrates. Este, na indagação do nível de conhecimento e reflexão dos diletantes do conhecimento, numa primeira fase, destruía as certezas do seu interlocutor (ironia) para numa segunda fase (maiêutica) o ajudar a refletir mais corretamente e com mais profundidade. Popper substituiu o método indutivo que reinava soberano no âmbito científico e estabeleceu critérios novos de indagação que denominou deductive method of testing (Popper, 1961).
Popper, aceitando os limites e incongruências do método indutivo, estabeleceu que as teorias não têm que ser verificadas, mas sim falsificadas. A falsificação de uma teoria permite depurá-la e, se resistir a essa falsificação, torna-se mais robusta e esclarecedora. Não quer dizer que corresponda à verdade, quer significar que a resistência à falsificação permite que uma teoria continue a reinar na sua força justificativa e não é substituída por outra. Um dia que se encontrem argumentos que permitam verificar a falsificação dessa teoria, será substituída por outra que passará inexoravelmente também pelo crivo da falsificação. Só assim se avança no recuo do dogma e no ganho de realizações e conhecimentos mais seguros.
Feyerabend tal como Popper recusam a lógica do método indutivo. O problema, no nosso entender, radica num duplo logro: a impossibilidade da objetividade inquestionável dos dados e os perigos inerentes ao estabelecimento das teorias a partir desses dados. Segundo o método científico criticado por Feyerabend, o estabelecimento de uma teoria científica pressupõe um momento em que se sai da objetividade (possível) dos dados e se sobe à abstração (subjetividade) na construção das teorias. Aqui reside o problema, pois, a partir do quadro conceptual do indagador/investigador podem produzir-se postulados metafísicos ou preconceitos afastados da verdade que se pretendia indagar. A história da ciência é fértil em momentos em que o mais sério dos métodos conduziu a logros e preconceitos. Temos de reconhecer que a teoria elaborada pela ciência não é reflexo do real, mas antes uma construção do espírito humano que comporta em si muitos problemas. Embora nos sintamos o zénite da evolução, ainda hoje não desenvolvemos um critério intrínseco que nos permita diferenciar uma alucinação de uma perceção. Podemos ser enganados a cada momento pela irrazoabilidade do nosso cérebro. Por isso, torna-se difícil, acreditar na infalibilidade do cérebro humano no âmbito da construção das ideias e teorias. Daí o cuidado a ter nas elucubrações científicas que podem estar tocadas pela incapacidade do cérebro em fugir ao erro.
Popper defende a existência de um plano de verificação supra-sujeito, em que os eventuais erros de perceção sejam escrutinados. Assim, o problema da objetividade pode ser parcialmente resolvido pela comunicação intersubjetiva, já que se a minha recolha de dados corresponder à de muitos outros, podemos acreditar numa razoável objetividade que permita erradicar os erros de perceção.
Outro problema com que nos deparamos na abordagem científica da realidade radica no facto de que a ciência é contaminada por fluxos de não cientificidade. Pensamos que Feyerabend acredita na possibilidade de os fluxos de não-cientificidade que afetam a ciência não serem considerados destruidores dos nexos científicos, mas como forma de integração dos saberes científicos no campo total das ideias humanas. Algumas dúvidas podem ser levantadas quanto a esse desiderato, como seja a incompatibilidade genésica entre saber científico, aberto, permeável à sua destruição e o saber doutrinário, característico por exemplo das religiões, que se fecha no seu núcleo duro e não permite refutações. Não quer dizer que não seja possível conciliar ciência e religião, ciência e tradição, ciência e mitologia, ciência e metafísica, mas que é difícil de as integrar num plano de respeito mútuo é um facto inquestionável. Como Einstein afirmava que só utilizamos cerca de 15% dos recursos do nosso espírito; quiçá uma superior operatividade mental nos permita uma síntese mais conseguida dos vários saberes dispersos. Logicamente que a afirmação de Einstein é uma arrojada e não fundamentada expressão matemática; o cérebro humano, a cada momento trabalha a 100% do seu potencial absoluto.
Feyerabend, através da valorização do pluralismo das ideias, teve o mérito de fazer descer do pedestal da soberania epistemológica a física e a matemática pois, no conhecimento, não há tronos para disciplinas soberanas e cadeiras para as disciplinas suseranas. Na procura dos segredos do eu e do universo, na realidade, tudo-vale, pois se um sujeito pode encontrar a paz na solução de um algoritmo matemático outro poderá encontrá-la no cimo de um monte através da meditação transcendental. Esta carta de alforria conceptual e metodológica devemos agradecê-la a Feyerabend, Popper e poucos mais. Os argumentos de Feyerabend são passíveis de questionamento, sem dúvida. Como vimos, através de Popper, limaram-se muitas arestas sobre a validade das proposições científicas. A mensagem de Feyerabend assenta na necessidade de sermos mais ingénuos filosoficamente, isto é, voltar a crer no poder radicalmente transformador, inquiridor e seletivo que habita no pensamento verdadeiramente filosófico.
Feyerabend contribuiu para alguma desvalorização do método experimental, criado por Aristóteles e alicerçado na observação, comparação, classificação e estabelecimento de relações e que teve continuadores até aos nossos dias. O malogro da indução veio-nos revelar a impossibilidade de eliminar o erro experimental e o estabelecimento de conclusões definitivas em ciência. No entanto, temos de reconhecer que, com o avançar experimental, os postulados teóricos são mais robustos e fiéis à realidade e mais unificados do ponto de vista formal.
Terminamos com uma frase de Einstein (1979) que localiza os limites do método e a abertura do espírito preconizada por Feyerabend: “As leis gerais que estão na base da Física têm a pretensão de ser válidas para todos os acontecimentos da natureza. A partir destas leis, deveria poder encontrar-se, por via de dedução puramente lógica, a imagem, quer dizer, a teoria de todos os fenómenos da natureza, se este processo de dedução não ultrapassasse de longe a capacidade do pensamento humano. […] A tarefa suprema do físico é, pois, a procura das leis elementares mais gerais, das quais se pode obter, pela dedução pura, a imagem do mundo. Para estas leis elementares não há nenhum caminho lógico, mas apenas intuição que se apoia sobre um sentimento de profunda simpatia com a experiência”.
José Augusto Santos
REFERÊNCIAS
Chalmers A (1994). A fabricação da ciência (trad. Sidou B). São Paulo, Brasil: UNESP.
Descartes R (1991). Discours de la méthode. Paris, France: Éditions Nathan.
Einstein A (1979). Comment je vois le monde (trad. Hanrion R). Paris, France: Flammarion.
Feyerabend P (1993). Contra o método. Lisboa, Portugal: Editora Relógio D’Água.
Goethe JW von (1998). Maxims and reflections. London, England: Penguin Books.
Machado C (2007). Uma leitura de Paul Feyerabend. A relação de poder entre astrologia e ciência. Constelar: um olhar brasileiro em astrologia. Edição109. Disponível em http://www.constelar.com.br/constelar/109_julho07/feyerabend1.php
Popper K (1961). The logic of scientific discovery. New York , USA: Science Editions.
Schlick M (1975). O fundamento do conhecimento. São Paulo, Brasil: Abril Cultural.
Wittgenstein L (1961). Tractatus logico-philosophicus (trad. Giannotti JA). São Paulo, Brasil: Companhia Editora Nacional.
|
ARTIGOS
Papers
Atividade muscular acessória da respiração após programa de reeducação respiratória e natação em asmáticos
Marta Cristina R da Silva, Mateus Corrêa Silveira, Frederico Dagnese, Carlos Bolli Mota, Sara Teresinha Corazza, Rodrigo Rico Bini
Relação entre a duração do período de recuperação e a expressão sérica de CK e creatinina após treino de força em circuito
Gisele Brandão, Sabrina Bastos, Pierre Augusto-Silva, Álvaro Dutra Souza, Renan Carlos Teixeira, Mauro Lúcio Mazini Filho, Paulo Vinicios Camuzi Zovico, João Victor da Silva Coutinho, Victor Magalhães Curty
Interação e network de sequências ofensivas coletivas: Análise de uma seleção de sub-20 no Campeonato do Mundo de Futebol
Ricardo Alves, Gonçalo Dias, José Gama, Vasco Vaz, Miguel Couceiro
Hydration status of competitive rowers during indoor and outdoor training sessions
Kenya Venusa Lampert, Fernanda Donner Alves, Marcello Varriale, Cláudia Dornelles Schneider
Preferência percebida por estilos de aprendizagem em situações da vida diária e esportiva de atletas e não atletas
Rodrigo Luiz Vancini, Stéphanie Silveira Donato Roosevelt, Karine Jacon Sarro, Marília dos Santos Andrade, Rafael Júlio de Freitas Guina Fachina, Cláudio André Barbosa de Lira
A reclusão/concentração esportiva para atletas de categorias de base do futebol brasileiro
Kauan Galvão Morão, Guilherme Bagni, Renato Henrique Verzani, Claudio Gomes Barbosa, Afonso Antonio Machado
|